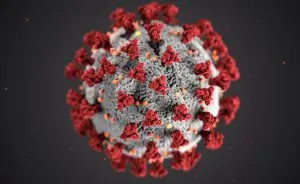Por Nelson Oliveira em Agência Senado – As chuvas, que desde dezembro têm castigado os habitantes de onze estados, principalmente os da Bahia e Minas Gerais, provocaram um quadro de devastação que não pode ser explicado apenas pelo volume incomum das precipitações, mesmo para o verão. Ruas alagadas, casas em escombros, pontes e tubulações destruídas, pessoas sem abrigo, água potável e comida são também o resultado da ocupação desordenada dos espaços urbanos e da transformação de áreas periféricas a qualquer custo.
Essa é a conclusão a que chegaram especialistas ao analisarem as imagens e os dados relacionados com os alagamentos que até 6 de janeiro haviam deixado, só na Bahia, 30,9 mil pessoas desabrigadas, 62,7 desalojadas e 26 vítimas fatais. No total, 715,6 pessoas haviam sido afetadas. De acordo com dados coletados pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID), onde as prefeituras cadastram informações, as enxurradas já causaram prejuízos de quase R$ 1,7 bilhão ao estado. Desde o início de dezembro de 2021, 154 municípios da região afetada decretaram situação de emergência e 127 cidades obtiveram reconhecimento federal.
Depois do setor agrícola, que sofreu R$ 591,8 milhões em perdas (35,4% do total), o setor de habitações foi o que mais perdeu: R$ 495,3 milhões, correspondendo a 29,7%, com casas danificadas e ou destruídas pelas chuvas. Em terceiro, estão obras de infraestrutura, como pontes, asfaltamento de estradas, ruas, avenidas, entre outros, com R$ 351,6 milhões, correspondendo a quase 21% do total.
De acordo com o último levantamento de estados de emergência e de calamidade pública, em função de chuvas intensas, tempestades e tornados, o Brasil acumulou prejuízos de R$ 10,1, bilhões em 2020. O setor de habitação foi o mais afetado, somando perdas de R$ 8,5 bilhões com a destruição ou danos de moradias. Segundo o levantamento, foram 280.486 moradias danificadas ou destruídas. Os prejuízos em obras públicas aparecem logo em seguida, com impacto negativo em bueiros, calçadas, asfaltamento de ruas e avenidas, o que contribuiu para que rombo chegasse a R$ 2,4 bilhões.
Planejamento
Inquietos com o cenário caótico das últimas semanas, urbanistas e arquitetos alertam para a urgência de o país retomar de forma sistemática a prática elementar do planejamento urbano.
— Além de surgirem como efeitos da convergência do Atlântico Sul e do La Niña, essas chuvas decorrem, como sabemos, de mudanças climáticas que estão em curso no planeta, a exemplo das que arrasaram recentemente regiões que vão da Alemanha ao Sudeste Asiático. O fato é que as chuvas ocorridas no início de dezembro se repetiram de maneira arrasadora às vésperas do Natal. A repetição de um volume maior de precipitação nesse período certamente contribuiu para a tragédia ocorrida, porque mal deu tempo de as águas serem ou absorvidas no solo ou encaminhadas pelos córregos aos rios e esses ao mar. Entretanto, [esses fenômenos] são agravados por intervenções dos seres humanos. O desmatamento e a destruição das matas ciliares em nossos rios, com a chegada de pastagens até as margens nas áreas rurais, por exemplo, fazem com que a velocidade das águas nos leitos se acelerem e não sejam retidas mais a montante desses cursos de água — explica o professor de arquitetura da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) Joel Pereira Felipe.
Quando chegam às cidades, acrescenta o arquiteto, essas torrentes líquidas encontram uma situação de emparedamento dos córregos que são canalizados ou até “tamponados”, ou seja, ocultados sob vias de fundo de vale asfaltadas ou cimentadas:
— Isso aumenta mais ainda a velocidade das águas e, combinado à impermeabilização do solo pela pavimentação de ruas, adensamento com edificações, quintais das casas e condomínios com calçadas, em vez de jardins, não permitem a drenagem natural.
Outra questão considerada “grave” pelo professor é o uso desses cursos d’água como “depósito móvel e flutuante de lixo e entulho”:
— Como “destino final” dessa irresponsabilidade e ausência de educação ambiental, observamos a chegada nas praias de Ilhéus de para-choques de carros, tubos de TV, portas de geladeiras e sofás.
De acordo com o arquiteto Nilton de Lima Junior, representante de Goiás no Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo (CAU), a ocupação de áreas de preservação ambiental, principalmente as alagáveis, bem como as de encostas, sujeitas a deslizamentos, são possivelmente os grandes responsáveis pelo quadro verificado na Bahia, mas escondem “problemas maiores”. Um deles é o descaso do poder público em coibir essas ocupações e, ao mesmo tempo, fornecer alternativas de moradia.
— Mas não é só não permitir, é oferecer outra alternativa. Ninguém em sã consciência vai morar e levar seus filhos para áreas de risco. Vão pela completa falta de recursos econômicos e físicos, pois essas áreas são, normalmente, públicas, ou extremamente baratas, justamente pelos riscos que representam. Em que lugar um pai de família deve morar, se não tem recursos suficientes para comprar ou alugar uma moradia digna? Por que o Estado não fornece o mínimo a esses cidadãos?
Lima Júnior observa que essas questões são complexas, envolvem muitas responsabilidades e não se restringem aos municípios, “que é onde se torna transparente o grande problema brasileiro”:
— Do ponto de vista do planejamento urbano falta muito. Diria que falta inclusive planejamento, pois o que vemos termina sendo ocupação urbana e não planejamento, na acepção da palavra. A cidade deve ser acolhedora, deve se preocupar com cada um de seus cidadãos, com seu emprego, com sua renda, com a educação fundamental, com a saúde básica, com o transporte, com a iluminação pública, com o saneamento. O Estado deve se preocupar com a segurança pública, com a saúde, com a educação, com apoio ao município para que os instrumentos públicos funcionem e atendam ao cidadão! E à União compete articular, coordenar e planejar de forma macro como o país deve se desenvolver.
Cobrança
Entre parlamentares, também se registram críticas à postura do presidente. Enquanto o senador Otto Alencar (PSD-BA) reclamava a presença do presidente na Bahia, embora tivesse enviado ministros para lá, a senadora Simone Tebet (MDB-MS) cobrava mais sensibilidade da parte de Bolsonaro e anunciava a assinatura de um requerimento para que Comissão Representativa do Congresso atue, de imediato, em ações para socorrer as vítimas das enchentes. A comissão é encarregada de assuntos emergenciais durante os períodos de recessos.
O próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, cobrou a edição de uma medida provisória que liberasse imediatamente recursos para os municípios atingidos, o que foi feito por meio da MP 1.092/2021. Um crédito extraordinário de R$ 700 milhões foi aberto ao Ministério da Cidadania para atender principalmente os estados da Bahia e de Minas Gerais. Os senadores Angelo Coronel (PSD), Otto Alencar e Jaques Wagner (PT) também uniram esforços para garantir assistência imediata à população atingida na Bahia.
Para o conselheiro do CAU, a situação caótica mostra a necessidade de retomada do planejamento urbano pelos municípios.
— A despeito do aquecimento global, continuamos não acreditando e desdenhando de sua repercussão. A cidade deve funcionar como um ecossistema, deve ter fluxos resolvidos, assistidos por sistemas de transporte efetivos e eficientes, deve ter equidade na distribuição de equipamentos urbanos, deve ter um uso racional e equilibrado de moradias e infraestrutura, deve oferecer trabalho, renda, cultura, diversão e ócio.
Margens
Na tentativa de equacionar os princípios do urbanismo com situações consolidadas, foi sancionada no dia 30 de dezembro uma lei que dá aos municípios o poder de regulamentar as faixas de restrição à beira de rios, córregos, lagos e lagoas nos seus limites urbanos. Sancionada com vetos pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, a a Lei 14.285, de 2021, altera o Código Florestal (Lei 12.651, de 2012) para permitir a regularização de edifícios às margens de cursos e corpos d’água em áreas urbanas.
O Projeto de Lei (PL) 2.510/2019, do deputado Rogério Peninha Mendonça (MDB-SC), foi aprovado pelo Senado em outubro, com emenda da senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) que assegurava a largura mínima de 15 metros desocupados para as faixas marginais de cursos d’água em “áreas urbanas consolidadas”. Mas no retorno à Câmara, a emenda foi rejeitada.
O relator do projeto, senador Eduardo Braga (MDB-AM), disse, durante a votação, que as novas regras vão pacificar as divergências sobre as regras de preservação em áreas urbanas no Código Florestal. Segundo Braga, um erro na apreciação dos vetos ao texto original do Código Florestal deixou para essas áreas as mesmas regras de zonas rurais — que são mais restritivas — jogando dúvida sobre a legalidade de várias construções que já existiam.
— [O projeto] vai tirar da ilegalidade milhares de empreendimentos residenciais, comerciais, industriais e vai abrir a legalidade, com a responsabilidade ambiental necessária, para que novos projetos possam ser aprovados com segurança jurídica, garantindo ao investidor a pacificação geral com o Código Florestal — celebrou.
— Temos a regulamentação dos espaços ocupados, aqueles que já estão consolidados, e deixamos claro a inviabilidade de novos desmatamentos. Garantimos aquilo que nós temos hoje preservado nas Áreas de Preservação Permanente — disse Eliziane.
O planejamento deve fortalecer a implantação de parques urbanos, descobrir rios e córregos que foram eliminados, colocados em dutos, canalizados. Há no mundo cidades que inclusive utilizam seus rios urbanos como paisagem, como meio de locomoção e como atração econômica para o turismo Nilton Lima Júnior, arquiteto
Estatuto
Para o consultor legislativo do Senado Victor Carvalho Pinto, especialista em direito urbanístico, um dos limitadores do planejamento urbanístico no Brasil é o arcabouço legal e institucional, que precisa ser atualizado e complementado, depois de 20 anos de vigência do Estatuto da Cidade (Lei 10.257, de 2001), completados em julho.
— O Estatuto consagrou em diretrizes os conceitos urbanísticos considerados fundamentais nos dias de hoje. Além disso, criou instrumentos de política urbana importantes para o alcance desses objetivos. Ocorre que ele não estruturou um sistema de planejamento, limitando-se a prever algumas matérias a serem tratadas nos planos diretores. O ideal seria tipificar os planos, definindo com clareza aqueles a serem elaborados conforme a escala territorial, como ocorre na maioria dos países desenvolvidos.
Segundo Carvalho Pinto, na ausência de um sistema desse tipo, as decisões são tomadas de maneira casuística e pouco transparente, o que dificulta a incorporação de considerações técnicas e a participação popular. Essa última é fundamental, não só para que técnicos e gestores tomem ciência dos problemas que têm de resolver, mas também para que, sendo consultados, os cidadãos interessados se engajem nos projetos e se tornem forças propulsoras e legitimadoras de soluções virtuosas.
— O saldo do Estatuto da Cidade é positivo, pois antes não havia nada e muitas iniciativas municipais ficavam limitadas pela ausência de instrumentos, mas quando o comparamos com os códigos de urbanismo que existem em outros países, vemos que há muito a avançar — alerta o consultor (leia entrevista completa ao final).
No entendimento do professor Joel Felipe, mesmo a aplicação do aparato legal já existente seria de grande utilidade para evitar as tragédias que todos os anos se abatem sobre centenas de cidades brasileiras.
— Fazer cumprir a legislação no tocante à não permissão de ocupação das áreas de preservação permanente nas margens dos cursos de água, nas zonas rural, florestal e urbana, é fundamental. Mas se isso tem alguma condição de ocorrer nas zonas rurais e florestais, é praticamente impossível nas cidades, que têm as margens dos rios e córregos quase que totalmente ocupadas por moradias de famílias de baixíssima renda. Essa ocupação, feita geralmente com materiais improvisados, e que aos poucos se consolidou com materiais permanentes, característica das moradias “subnormais”, é resultado da política urbana brasileira, que concentra a propriedade do solo urbano e se recusa a fazer valer o preceito constitucional sobre o direito social da terra.
Mas o arquiteto chama a atenção para o fato de as moradias às margens dos rios não serem as únicas afetadas.
— A maior parte da população que sofreu com o alagamento de suas casas morava próximo às áreas impermeabilizadas, em ruas que se transformaram em rios, que rapidamente penetraram como vasos comunicantes nas áreas secas.
Joel Felipe lembra que o Estatuto das Cidades definiu, entre os instrumentos de atuação do poder público, o IPTU progressivo no tempo (sobretaxação de terrenos ociosos e bem localizados); parcelamento e edificação compulsórios; o direito de preempção (preferência na compra) e mais alguns, que, ao serem regulamentados nos planos diretores municipais, poderiam ser utilizados para a realocação, dentro da malha urbana, de famílias instaladas nas beiras de córregos.
— Ao demolir essas edificações, poderia haver recomposição das áreas permeáveis com a implantação de parques e áreas de lazer para toda a cidade — sugere o professor da UFSB.
De qualquer forma, ele se diz cético no momento a respeito de um grande programa de reestruturação urbanística em razão de dificuldades políticas e culturais:
— Seria um sonho, nosso ideal, mas não acredito que seja viável no momento. Nós tínhamos um Conselho das Cidades, bastante representativo dos atores que estão nesses processos de reestruturação urbana. Nele estavam representados do planejamento, à execução de programas e projetos, passando pelos representantes dos moradores. Esse e outros conselhos foram desmantelados, como é de conhecimento público, deixando somente representantes do próprio governo.
Joel Felipe explica que seu ceticismo é fruto da percepção negativa que tem em relação a práticas de elaboração e execução orçamentárias como as emendas de relator, que, somando recursos importantes, são alocadas em obras sem a observância de estratégias nacionais de longo prazo. Tais verbas, entende o arquiteto, poderiam estar sendo aplicadas em emergências decorrentes de desastres naturais.
A Lei de Parcelamento do Solo Urbano (Lei 6.766, de 1979), que disciplina o processo de urbanização, proíbe a ocupação de áreas de risco, como terrenos de alta declividade ou sujeitos a inundações. O Estatuto da Cidade (Lei 10.257, de 2001), por sua vez, instituiu como diretriz de política urbana a ordenação do uso do solo, de modo a evitar a exposição da população a riscos de desastres e exige o mapeamento, no plano diretor, das áreas de risco, com base em carta geotécnica, com a indicação das ações de intervenção preventiva e realocação da população. Mesmo a Lei da Regularização Fundiária Urbana (Lei 13.465, de 2017), voltada para a regularização de assentamentos informais consolidados, prevê a realocação dos ocupantes de áreas cujos riscos não possam ser eliminados, corrigidos ou administrados. Muitas dessas áreas também são de proteção permanente (APP), nos termos do Código Florestal (Lei 12.651, de 2012), pois cumprem “função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas”.
Para o arquiteto Lima Júnior, o planejamento urbano é um processo, e deve, portanto, ser contínuo, acompanhado de perto e revisto sempre que necessário. No Brasil, contudo, não tem sido usado de forma concisa e tecnicamente formal como deveria. E como a lei prevê.
— Compete ao Estado determinar como a cidade deve crescer, resguardando os direitos dos cidadãos, mas, infelizmente, vemos que o poder econômico é quem dita as regras dos planos diretores de modo geral e, dessa forma, termina por excluir os que não possuem poder econômico e ou lobby.
De acordo com ele, é fundamental que os gestores públicos não permitam a ocupação de áreas inadequadas e mesmo inapropriadas, por mais dura que seja essa decisão.
Victor Carvalho Pinto dá como exemplo de proteção inadequada o fornecimento de energia elétrica e outros serviços públicos a ocupações irregulares, nas quais muitas vezes moram pessoas de classe média.
— A população que se desloca para essas áreas termina sofrendo ainda mais com grandes riscos de desapropriação, de assoreamento, de deslizamentos. Mas diagnosticar e tratar a questão, infelizmente, não é o que vemos. Sempre tratamos a “febre” e não a “doença”. Sim, nossas cidades estão doentes. E a solução não é simples, nem rápida — adverte Lima Júnior.
Conforme o arquiteto, o país tem ferramentas legais adequadas, mas há muita dificuldade no cumprimento de regras, de modo que os problemas se acumulam no rastro de uma Justiça falha, pela lentidão e inação, que termina gerando a certeza de impunidade.
Para ele, parte importante da saída está na valorização do trabalho de urbanistas e arquitetos e na incorporação do conhecimento técnico desses profissionais às decisões dos gestores públicos.
É o que também defende a professora de arquitetura da Universidade Estadual de Goiás em Anápolis Maíra Teixeira Pereira:
— Quanto à formação desses profissionais, não há uma lacuna. Sou arquiteta e urbanista, e na minha experiência como aluna passei por disciplinas como planejamento urbano e desenho urbano, que nos preparam pra resolver esses problemas. E também os profissionais da Engenharia Civil, que trabalham com drenagem, com sistemas de abastecimento de água, esgoto, canalização, sem falar no engenheiro sanitarista, que é ainda mais preparado pra isso. Então temos profissionais que dão conta de planejar espaços urbanos mais sustentáveis e menos sujeitos a esse tipo de problema. O problema é quando esse conhecimento se defronta com a vontade pública, porque nem sempre os administradores têm interesse de implementar todas essas medidas, inclusive ações de saneamento, porque são obras que, via de regra, não aparecem. E muitas vezes eles cedem às pressões imobiliárias, que têm outros interesses, como, por exemplo, diminuir a área de proteção ambiental, construir, expandir o perímetro urbano, construir sobre áreas de proteção ambiental..
Requalificação
O ordenamento jurídico brasileiro oferece outra ferramenta, que tanto serve para reparar danos como os verificados na Bahia e em outros estados quanto para prevenir problemas decorrentes ou não de intempéries. Trata-se da Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (Athis), criada por meio da Lei 11.888, de 2008, uma proposta do arquiteto, urbanista e deputado gaúcho Clóvis Ilgenfritz da Silva (1939-2019).
A Athis estabelece que famílias com renda de até três salários mínimos, em áreas urbanas e rurais, recebam assistência técnica pública e gratuita, prestada por profissionais habilitados para a elaboração de projetos, acompanhamento e execução de obras necessárias para a edificação, reforma, ampliação ou regularização fundiária de suas moradias.
Além de assegurar residências adequadas e seguras à população de baixa renda, essa política tem ainda como virtudes movimentar a economia e o comércio local, gerar emprego e renda na área da construção civil, melhorar a qualidade de vida da população e diminuir os gastos com saúde pública associados às condições de salubridade das habitações.
— Esse instrumento legal, que ainda não “pegou” na escala que mereceria no país, é uma excelente ferramenta para gerir o dia seguinte das enchentes. Embora a lei fale em assistência técnica gratuita, eu prefiro chamar de assessoria técnica, que deve ser financiada pelas três esferas de governo, na forma de contratação de escritórios ou profissionais de arquitetura e engenharia para a elaboração de diagnósticos, projetos e acompanhamento de obras em moradias populares e requalificação de espaços comunitários.
Segundo o professor, há a previsão de participação das universidades em programas de extensão que envolvam estudantes e docentes nessas atividades:
— É nessa última perspectiva que estamos tentando apresentar aos prefeitos da região a parceria da nossa universidade, a UFSB, e do nosso Núcleo de Estudos e Intervenções nas Cidades (Neic), para a consecução de projetos voltados a essas famílias desabrigadas.
De acordo com o arquiteto, há muitos terrenos que servem atualmente à especulação imobiliária nas áreas centrais, em condições de abrigar de 10 a 30 famílias. A utilização desses imóveis evitaria a prática desaconselhável de construir conjuntos habitacionais distantes do centro, onde não há escolas, creches. A escolha por realocar as famílias vítimas das enchentes em áreas próximas dos centros urbanos cooperaria, por outro lado, para compactar as cidades, evitando o crescimento das periferias.
Ainda que uma centena de leis municipais reproduzam os termos da lei, segundo o Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo, há hoje apenas 30 programas baseados na Athis sendo efetivamente administrados num universo composto por 5.570 municípios e pelo Distrito Federal.
A iniciativa do Neic é elogiada pela presidente do CAU, Nadia Somekh, que tem oferecido apoio para levar a proposta adiante, especialmente com mobilização no Congresso Nacional. A ação do conselho já rendeu, na proposta orçamentária deste ano (PLN 19/2021), emendas de parlamentares de diferentes partidos destinando recursos para implementação da Athis.
— Foi só o começo, queremos mais. A tragédia que atingiu a Bahia, e que também causa temor em Minas Gerais, mostra o quanto é importante o uso intensivo da Athis, uma norma que pode colaborar não apenas para mitigar o problema habitacional crônico do país, mas igualmente para apoiar ações emergenciais como as exigidas agora — defende Nadia.
Sol Nascente
Um dos profissionais que acompanham reformas com base na Athis no DF, o arquiteto Gustavo Franco compara o direito à assistência técnica com o de ter tratamento médico no Sistema Único de Saúde (SUS) ou atendimento jurídico pela Defensoria Pública. Servidor da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab), ele tem prestado assessoria a famílias na comunidade do Sol Nascente, região administrativa com 83,1 mil habitantes, que resultou da regularização dos loteamentos Sol Nascente e Pôr-do-Sol, considerados a maior favela da América Latina.
Atualmente, há no Distrito Federal 17 reformas de imóveis em andamento, mas a companhia já realizou 500 desde 2017, por meio de empresas de construção civil inscritas num cadastro especial do programa Melhorias Habitacionais. O programa começou a ser estruturado em 2015.
— Atendemos casos de extrema vulnerabilidade social, inclusive de pessoas com deficiência. Os atendidos muitas vezes vivem em residências com um cômodo só, casas sem ventilação ou sem um bom sistema elétrico e que, se não reformamos, vão adoecer seus moradores por causa do mofo. As casas podem até cair na cabeça deles. Por isso, entendemos que a arquitetura também é questão de saúde pública. E nós arquitetos temos de lutar pelo cumprimento dessa lei — diz Franco.
O arquiteto explica que depois da visita de uma assistente social, a família candidata a reforma tem reuniões com o grupo de apoio da Codhab para que o projeto se adeque às suas carências.
A gerente do projeto, arquiteta Sandra Marinho, recorda o caso de uma pessoa com deficiência, cuja forma de locomoção consistia em se arrastar por uma moradia muito precária e cheia de obstáculos.
— A reforma propiciou o rebaixamento de todos os itens, como pias e armários, para que ele tivesse sua acessibilidade garantida. Quando há cadeirantes na casa, providenciamos rampas, por exemplo. Em outras situações, o que fazemos é aumentar o pé direito [altura das paredes] de casas extremamente baixas.
A arquiteta se diz emocionada com os impactos desses projetos na vida de pessoas com bastante vulnerabilidade social: crianças que passam a ter melhor rendimento escolar porque já dispõe de um quarto próprio, famílias que aumentam a renda porque as melhorias permitem a abertura de um pequeno comércio no local. Sandra Marinho salienta que o programa permite o cruzamento de políticas públicas, de modo que os participantes acabam recebendo outros benefícios sociais.
Franco conta que na execução das obras o programa utiliza normalmente empresas de porte modesto, e, por conseguinte, com pouca ou nenhuma folga financeira. Face a planilhas de custos restritivas, a administração das obras traz preocupação a quem quer manter seu negócio de pé. Por isso, há questões demandando mais precisão e agilidade relacionadas aos orçamentos de materiais, obrigatoriamente vinculados às tabelas de obras públicas da Caixa Econômica Federal. É que os valores de tabela nem sempre coincidem com a realidade do mercado. Isso força os empresários e as equipes de acompanhamento a pesquisas adicionais junto aos próprios fornecedores.
— As empresas precisam se capacitar para esse atendimento social, mas têm também de se sentirem recompensadas pela remuneração — pondera Franco.
Nesse sentido, Sandra Marinho observa que o valor de cada reforma aumentou de R$ 10 mil para R$ 25 mil. A maior parte dos recursos tem como fonte não o orçamento da Codhab, mas emendas parlamentares ao Orçamento na Câmara Legislativa do DF e ainda na Câmara dos Deputados.
Na primeira fase do programa, até 2018, foram aplicados R$ 3,5 milhões entre a parte de gestão e obras. Nos três anos seguintes, outros R$ 10 milhões foram investidos em 500 reformas, que já somam 20 mil metros quadrados de requalificação.
Paralelamente, a Codhab toca, em parceria com o CAU, o programa Nenhuma Família sem Banheiro, que foca especificamente nas instalações sanitárias.
— O Estado sozinho não dá conta. Tem de contar com sociedade, ONGs, instituições de ensino e autarquias. Tem de ser uma rede articulada — afirma Sandra.
Ela recomenda à sociedade e à classe política uma avaliação das conquistas da Athis, entre as quais as soluções adaptadas a cada família e comunidade em comparação com a padronização exacerbada de grandes programas habitacionais do tipo Minha Casa, Minha Vida e Casa Verde-amarela. A arquiteta cita igualmente como alternativa interessante para as maltratadas metrópoles brasileiras a recuperação de espaços degradados, o retrofit, sistema capaz de ampliar a oferta de moradias a um custo mais barato que o de novos loteamentos.
De um ponto de vista mais amplo, Sandra Marinho reforça o clamor de arquitetos e urbanistas em prol do planejamento urbanístico como princípio para a reorganização das cidades, o que, segundo ela, depende de uma eficiente coordenação em nível nacional.
Veja o caso de uma reforma pela Athis em São Sebastião (DF)
A rigor, não há necessidade de que tudo esteja absolutamente à mão, mas que seja pelo menos acessível por meio de uma linha de transporte eficiente, por exemplo.
O tamanho e modelo dos imóveis é algo que deve ser avaliado com base em urgências coletivas, de modo a distribuir da maneira o mais equitativa possível as disponibilidades de recursos em termos de terrenos e dinheiro alocado a construções e equipamentos como ruas, instalações elétricas e sanitárias.
Contudo, o caminho que os núcleos urbanos, em especial os de tamanho médio para cima, estão adotando segue para longe desse ideal. E de forma errática, segundo os especialistas. Ao invés de as cidades serem pensadas no seu todo, com os projetos de expansão ligados ao restante, vão a reboque das ocupações irregulares ou da especulação imobiliária. O resultado é que, mesmo quando opta-se pelos prédios, e não pelos conjuntos de casas, os projetos arquitetônicos estão aquém do preço cobrado por construtoras. E se são financeiramente alcançáveis, pecam pela má qualidade. Além do mais, a conexão com os serviços públicos e privados costuma ser precária.
— Os condomínios horizontais têm sido construídos em áreas afastadas, pela razão do custo, e porque não compete ao empreendedor criar um sistema de transporte ou de infraestrutura para ligar à cidade. Isso compete ao município. Por outro lado, e passando desapercebido (muito provavelmente com segundas intenções) levar desenvolvimento a uma região afastada termina valorizando as áreas no caminho. Nunca nos damos conta disso. Levar um equipamento urbano para longe ou um condomínio de luxo, valoriza rapidamente áreas que muito provavelmente não eram valorizadas. Além de ainda permitir que áreas rurais se tornem urbanas aumentando os limites da área urbana ou de expansão urbana e a consequente valoração de impostos — explica o arquiteto Lima Júnior.
O arquiteto pergunta por que apartamentos não podem ter áreas verdes:
— Podem, sim! Trata-se de uma escolha do gestor público e dos planos diretores, mas temos de pensar em como o planejamento deve induzir este tipo de ocupação. Em Goiânia, nos anos 90, o plano diretor previa um “abono” construtivo para edifícios com varanda. Resultado: todo edifício construído na cidade tinha varanda.
Na opinião dele, pensar no planejamento urbano com seriedade é um caminho que pode inclusive, trazer o mercado para junto dos setores técnicos. Planejar, aliás, teria como etapa fundamental buscar o engajamento de todos os atores responsáveis pela construção da cidade:
— Os planos diretores devem fomentar o desenvolvimento sustentável da cidade, telhados verdes, áreas permeáveis, mas publicizar o porquê disso, mostrar que os telhados são seguros, são confortáveis, e que ainda elevam o uso de um apartamento ao nível de casa suspensa com jardim. Temos de fomentar energias alternativas, temos de pensar o futuro e oferecer liberdade de novas soluções que atendam a um leque de alternativas que nem sabemos ainda.
O número de habitantes ou de residências por hectare é uma medida aceita para calcular a densidade da ocupação urbana. Na verdade, densidade e oferta de equipamentos em maior número é até definidor do espaço urbano.
Mas a densidade ideal vai depender sempre de cada caso, conforme observam os autores do estudo “Densidade, Dispersão e Forma Urbana — Dimensões e limites da sustentabilidade habitacional”. Geovany Jessé Alexandre da Silva, Samira Elias Silva e Carlos Alejandro Nome sustentam que o que é confortável na Índia será muito apertado na África do Sul. E, em razão de fatores econômicos e das experiências sociais, a noção do grande ou do pequeno pode diferir entre indivíduos de classes sociais e regiões no Brasil.
No início do século 20, vigorou a ideia de que “não havia vantagens em se adensar as cidades ocidentais”, e o padrão máximo proposto era de 30 casas por hectare (menos de 100 habitantes por 10 mil quadrados). Nos anos de 1960, a ativista norte-americana Jane Jacobs advertiu para os impactos negativos do crescimento dos subúrbios de classe média nos Estados Unidos e no Reino Unido e do isolamento de grupos mais pobres, “seja em áreas centrais desvalorizadas ou em periferias mais afastadas”. Em contraposição ao espraiamento, Jacobs sugeriu a ocupação mínima de 250 habitações por hectare, de modo a propiciar a vitalidade e a participação urbana.
“Na atualidade, altas densidades e a compactação espacial construtiva são aceitas como prerrogativas inerentes à sustentabilidade e ao crescimento econômico das cidades contemporâneas na visão de diversos urbanistas e estudiosos do assunto”, diz o estudo. “Todavia, a densidade no campo do urbanismo não deve ser tomada como um elemento meramente estatístico e tecnocrático, mas necessita incorporar aspectos qualitativos na análise do espaço urbano”.
É o que prega o consultor Victor Carvalho Pinto.
— O objetivo é o adensamento populacional. A verticalização [prédios ao invés de casas] é um meio para se alcançar esse objetivo. Mas a altura do prédio é apenas um elemento da equação. Hoje se discute muito a exigência de vagas de garagem, recuos e outras regras que impedem a plena ocupação do terreno. Se essas regras forem suprimidas, a densidade pode aumentar com prédios baixos, como ocorre em Paris, por exemplo.
O estudo de Geovany, Samira e Carlos Alejandro traça uma série de projeções, com cálculos que procuram demonstrar a economicidade do adensamento, sem perda de qualidade em relação às moradias em núcleos isolados. Ao contrário, até com ganhos.
Comparando ocupações hipotéticas de 36 e de 364 habitaçõess por hectare, o custo total dos projetos habitacionais seria de, respectivamente, US$ 260 mil e US 400 mil, mas o custo por habitante inverteria o resultado da equação, ficando em US$ 2.131, no caso do projeto unifamiliar, e de US$ 323, no caso do multifamiliar. Já o custo por residência seguiria o individual: US$ 7.222 para o projeto de casas e US$ 1.099 para o de apartamentos.
As diferenças de custo, que envolvem a urbanização em torno das novas áreas, se dão do mesmo modo na comparação entre modelos distintos de projetos residenciais multifamiliares, seja em função da altura, seja em razão do número de edifícios.
Os autores também encontraram nos cálculos outras possibilidades de benefícios do adensamento como um poderoso aliado na luta contra o déficit habitacional brasileiro. Num cenário com projetos de 30 habitações por hectare, o déficit seria resolvido com US$ 153 bilhões. Num cenário com projetos de 180 habitações por hectare, o custo cairia para US$ 114 bilhões.
Entrevista
Victor Carvalho Pinto, consultor Legislativo do Senado
O planejamento urbano no Brasil precisa de rearranjo legal e participação popular
Graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, o consultor Victor Carvalho Pinto explorou em seu doutorado, também pela USP, a intersecção entre plano diretor e direito de propriedade para uma contribuição à análise institucional da política urbana brasileira. Há pelo menos duas décadas ele se dedica a estudar as complexas questões envolvendo a organização das cidades sob uma perspectiva integrada, na qual a solução isolada de problemas é vista geralmente como insuficiente ou a causa de mais problemas. O consultor está igualmente empenhado em oferecer sugestões para a melhoria das leis, de modo que os gestores públicos, os empreendedores imobiliários e a sociedade tenham instrumentos adequados e seguros para tocar os projetos necessários a rearrumar ou ampliar o espaço urbano. “A União editou leis importantes, como o Estatuto da Cidade, mas algumas matérias importantes, como os loteamentos e as desapropriações, são disciplinadas por outras leis que não se harmonizam bem com o Estatuto. Além disso, temos graves problemas institucionais ainda não resolvidos, como a organização das regiões metropolitanas e o reparcelamento do solo”, diz Carvalho Pinto, que recomenda a adoção de um código urbanístico com a definição criteriosa das etapas de planificação. Ele trata ainda nessa entrevista de temas como a conveniência de um adensamento planejado das cidades, que vêm se espraiando desnecessariamente, a custo muito alto, do ponto de vista econômico, humano e ambiental. E aponta a desapropriação urbanística como uma saída para viabilizar a destinação racional de espaços a moradias, comércio e equipamentos públicos.
Agência Senado — O quadro de crise econômica, com queda da atividade do emprego e da renda, trouxe para as ruas das cidades brasileiras um contingente extra de pessoas sem moradia. Em termos de política urbana o que poderia ser feito para reverter, ou pelo menos minorar esse quadro?
Victor — O atendimento à população em situação de rua é tradicionalmente tratado no âmbito da política de assistência social. As prefeituras oferecem vagas em abrigos, onde o beneficiário pode dormir, tomar banho e se alimentar. Ocorre que esses abrigos têm regras e horários rígidos, não oferecem privacidade e separam as pessoas por sexo. Isso leva muitos moradores de rua a rejeitá-los.
Uma abordagem alternativa tem sido adotada em muitos países, denominada housing first, ou seja, “moradia primeiro”, em que se oferece a essa população unidades habitacionais propriamente ditas, nas quais uma família pode residir com privacidade. Essas unidades são disponibilizadas sem custo, pelo prazo necessário, mas não se transmite sua propriedade. Seria uma forma de aluguel social, mas gratuito. A produção desse tipo de empreendimento seria uma destinação mais justa para os recursos orçamentários da política habitacional que a concessão de subsídios em crédito imobiliário, que tem sido a política tradicional.
Agência Senado — Como o Brasil está aparelhado, do ponto de vista jurídico e legal, para enfrentar o desafio de se reestruturar urbanisticamente?
Victor — As três esferas da federação podem legislar sobre direito urbanístico. A União editou leis importantes, como o Estatuto da Cidade, mas algumas matérias importantes, como os loteamentos e as desapropriações, são disciplinadas por outras leis que não se harmonizam bem com o estatuto. Além disso, temos graves problemas institucionais ainda não resolvidos, como a organização das regiões metropolitanas e o reparcelamento do solo. As regiões metropolitanas são áreas conurbadas, nas quais o tecido urbano dos municípios se funde em uma única cidade. Essa situação exige uma governança integrada, para evitar que as decisões de um município prejudiquem os outros. Em 2015, foi aprovado o Estatuto da Metrópole, mas ele não tem sido implementado. O reparcelamento do solo é a reestruturação de áreas urbanas anteriormente, para cumprir novas funções definidas no plano diretor. Isso é fundamental, por exemplo, para regenerar centros urbanos degradados, promover o adensamento no entorno das estações de metrô ou reconverter áreas portuárias ou industriais decadentes. É uma operação complexa, pois se dá em um território já dividido em muitas propriedades, de lotes, edifícios e apartamentos. Em outros países, esse tipo de operação ocorre por permuta de imóveis antigos por novos, compatíveis com o plano, mas não temos uma legislação específica sobre esse assunto.
Agência Senado — Que balanço podemos fazer do planejamento exigido dos municípios dentro do que preconiza o Estatuto da Cidade e outras normas ligadas, por exemplo, à mobilidade. O Estatuto da Cidade, por exemplo, completou 20 anos em julho. Seus resultados são positivos?
Victor — O Estatuto da Cidade consagrou em diretrizes os conceitos urbanísticos considerados fundamentais nos dias de hoje. Além disso, criou instrumentos de política urbana importantes para o alcance desses objetivos. Ocorre que ele não estruturou um sistema de planejamento, limitando-se a prever algumas matérias a serem tratadas nos planos diretores. O ideal seria tipificar os planos, definindo com clareza os planos a serem elaborados conforme a escala territorial, como ocorre na maioria dos países desenvolvidos. Na ausência de um sistema desse tipo, as decisões são tomadas de maneira casuística e opaca, o que dificulta a participação popular e a incorporação de considerações técnicas. O saldo do Estatuto da Cidade é positivo, pois antes não havia nada e muitas iniciativas municipais ficavam limitadas pela ausência de instrumentos, mas quando o comparamos com os códigos de urbanismo que existem em outros países, vemos que há muito a avançar.
Agência Senado — Que papel pode desempenhar a desapropriação num esforço de melhoria urbanística das cidades brasileiras. Há alguma lacuna legal ou cultural a ser vencida?
Victor — O urbanismo tem medidas proativas e medidas reativas. As medidas reativas são basicamente o licenciamento de obras particulares, que pode ser acompanhado da cobrança de contrapartidas. São úteis para a expansão urbana e resultam na fragmentação progressiva da propriedade, de glebas rurais em lotes e destes em unidades condominiais. Ocorre que, com o passar dos anos, as cidades precisam mudar, como nos casos de reparcelamento do solo que eu mencionei anteriormente. Nesse momento, a fragmentação das propriedades se torna um problema, pois a mudança depende do reaproveitamento dos imóveis antigos e, portanto, da adesão dos proprietários ou sua venda a empreendedores. Em muitos casos, a simples construção de um prédio, para verticalizar e adensar uma área com infraestrutura ociosa, depende da compra de dez pequenos lotes com casas geminadas. Isso praticamente inviabiliza essas operações, pois basta que um proprietário não queira vender ou que exista alguma pendência jurídica que impeça a venda, como inventário ou falência, por exemplo. Situações desse tipo só podem ser resolvidas mediante desapropriação, ainda que esta deva ser utilizada apenas em caso de insucesso das alternativas anteriores. Esse tipo de desapropriação tem uma característica própria, que é a possibilidade de revenda das unidades construídas, inclusive como forma de financiamento do próprio projeto urbanístico. Isso é natural quando a destinação prevista no plano urbanístico é algum uso privado e não um logradouro público. Por isso mesmo, esse tipo de desapropriação, que se classifica como “urbanística” pode ser realizado por um concessionário privado, que receba uma delegação da prefeitura.
Agência Senado — Que espaço para a reestruturação urbanística, inclusive utilizando a desapropriação, foi aberto pelo novo marco ferroviário?
Victor — O novo marco ferroviário contém um capítulo sobre operações urbanísticas no entorno das linhas e estações ferroviárias. A ideia é aproveitar esses investimentos para reestruturar o tecido urbano mais próximo, especialmente para aumentar a quantidade de pessoas que reside ou trabalha próximo a essas linhas. Além disso, também se prevê o aproveitamento do espaço acima ou abaixo das linhas e dos pátios de estacionamento para a construção de lajes sobre as quais poderão ser construídos empreendimentos imobiliários. Isso foi feito, por exemplo, em Nova Yorque, no projeto Hudson Yards, construído sobre uma área terminal em área nobre da Cidade. O marco permite que o operador ferroviário submeta à prefeitura projetos desse tipo e faça uso da desapropriação, caso necessário, para implementá-los.
Agência Senado —O drama dos precatórios vencidos e não pagos, que gerou um grande debate em 2021, tem algo a nos ensinar sobre como se faz desapropriação no Brasil?
Victor — Sim. Muitos precatórios têm origem em desapropriações realizadas há décadas. Isso acontece porque o decreto-lei que disciplina as desapropriações, que é de 1941, permite a “imissão provisória na posse” do imóvel por parte do poder público, enquanto se discute em juízo o valor da indenização. O processo judicial demora muito e mesmo depois do trânsito em julgado o pagamento demora mais ainda. Durante esse período, incidem juros, o que acaba por gerar precatórios de valores muito elevados. A Lei de Responsabilidade Fiscal exige, como condição para as desapropriações, que os recursos para indenização já constem do Orçamento. Isso é insuficiente, no entanto. No caso das desapropriações urbanísticas, elas podem ser atribuídas a um concessionário, que pode ser o próprio operador ferroviário, por exemplo, e o edital pode excluir a adoção da imissão provisória na posse. O proprietário somente entregaria o imóvel depois de indenizado à vista pelo concessionário, o que impediria a formação de novos precatórios.
Agência Senado — É grave a situação das inundações na Bahia. A questão lá é só a ocupação das margens dos rios? Quais as camadas de inadequação do uso do solo ficam visíveis (ou ainda não estão tão visíveis assim) quando a gente observa o quadro de desastres naquela área neste verão?
VCP — Não tenho informações detalhadas sobre a situação, mas, considerando a extensão do desastre, suponho que haja um conjunto de situações. Pode haver ocupação irregular de APPs [áreas de preservação permanente], nas margens dos rios, definidas pelo Código Florestal, mas também parece ter havido alagamento de áreas regulares. Nesse caso, seria importante verificar até que ponto o risco de alagamento era ou não previsível, tanto na aprovação do loteamento quanto depois disso. Por incrível que pareça, é bastante comum que loteamentos sejam aprovados em áreas alagáveis, embora a Lei de Parcelamento do Solo Urbano o proíba, ou que sejam regularizados assentamentos ilegais nessas áreas. Houve conjuntos habitacionais do Programa Minha Casa, Minha Vida, por exemplo, construídos em áreas alagáveis. Isso deveria ser investigado pelos órgãos de controle interno e externo, Ministério Público e polícia. Pelo que vi do noticiário, também há um problema de gestão de recursos hídricos, pois a vazão de algumas represas de usinas hidrelétricas teve que ser aumentada, para evitar sua ruptura pela pressão da água. A abertura das comportas teria provocado cheias a jusante em áreas urbanas. É preciso verificar se esse tipo de risco foi considerado no projeto das represas e se havia planos de contingência para essas situações.
Agência Senado — Outro ponto, que provavelmente está presente na Bahia, mas que vale a pena abordar novamente é o do excessivo espraiamento das cidades. O senhor falou em desapropriação de casas para a construção de prédios. A verticalização das cidades tem que grau de importância na melhoria das nossas cidades.
Victor — O objetivo é o adensamento populacional. A verticalização é um meio para se alcançar esse objetivo. Mas a altura do prédio é apenas um elemento da equação. Hoje se discute muito a exigência de vagas de garagem, recuos e outras regras que impedem a plena ocupação do terreno. Se essas regras forem suprimidas, a densidade pode aumentar com prédios baixos, como ocorre em Paris, por exemplo. Também se poderia aproveitar melhor as casas de grande porte, permitindo que cômodos sejam vendidos ou alugados separadamente. Idem quanto às mudanças de usos, de comercial para residencial, por exemplo. Paralelamente a essa desregulamentação, é preciso coibir a ociosidade dos lotes e das edificações. A melhor maneira de fazer isso é a tributação do valor da terra, land value taxation, que consiste em se suprimir a tributação da edificação, aumentando em compensação a alíquota do terreno. Essa proposta foi incorporada ao relatório da reforma tributária no Senado, como mudança no IPTU, mas depois foi retirada. Também é preciso deixar de aprovar loteamentos distantes da malha urbana.
Agência Senado — Por que nossos gestores escolhem muitas vezes loteamentos com previsão para casas e não edifícios de apartamentos? É pressa? É uma questão de custos?
Victor — Nas cidades menores, é natural que a urbanização se dê por casas, pois construir prédios demanda uma certa capacidade de engenharia e empresarial. A questão é adotar as outras medidas que eu citei. Nas grandes cidades, não sei. É uma boa questão. São raros os casos de loteamentos projetados desde a origem para prédios, como temos no plano piloto de Brasília. Mas seria o ideal nas metrópoles. Creio que pode ser uma cultura urbanística que se generalizou, de lotear para casas e só depois liberar a verticalização, quando há demanda para isso.
Agência Senado — Do ponto de vista cultural, há um preconceito contra morar em apartamento ou é a qualidade dos projetos imobiliários que pega? Numa casa, a pessoa sempre pode ter espaço para um jardim, uma horta, uma churrasqueira, mas a moradia num prédio, apesar dos ganhos em segurança, parece tirar certos prazeres da vida cotidiana. Os urbanistas e arquitetos têm soluções para esses dilemas?
Victor — O natural seria que os dois padrões de urbanização e estilos de vida coexistissem e que cada um morasse conforme sua preferência pessoal e capacidade de pagamento. Só que a habitação de baixa densidade onera mais a sociedade, pelo impacto ambiental e custos de provisão de serviços públicos. Então seria natural que esses moradores pagassem mais caro e que os moradores de apartamento, mais barato. Isso não ocorre porque há um subsídio indireto ao espraiamento urbano, representado pelo sistema viário projetado para o automóvel e por tarifas homogêneas de energia, saneamento básico e mobilidade, por exemplo.
Fonte: Agência Senado