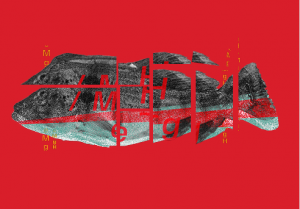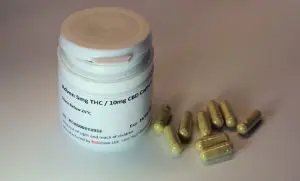Killeen inicia o sétimo capítulo de “A Perfect Storm in the Amazon” falando sobre governança, ou seja, a gestão do Estado que lhe permite não apenas administrar o governo, mas também criar políticas capazes de gerar desenvolvimento
Por Timothy J. Killeen – Mongabay | Quando os mercados não conseguem gerenciar a oferta e a demanda de bens e serviços, o resultado é chamado de “falha de mercado”. Há várias causas para a falha de mercado, mas a mais comum é a incapacidade de considerar “externalidades” positivas e negativas. Uma externalidade, no léxico de um economista, é um custo ou benefício que não é considerado no cálculo do retorno financeiro de um investimento. Os problemas ambientais são o produto de uma falha de mercado porque os produtores e consumidores de bens e serviços não pagam pelos danos causados por sua criação ou, ao contrário, não usufruem de um benefício monetário de um resultado sustentável. As falhas de mercado só podem ser corrigidas pela ação do governo, que normalmente assume a forma de: (1) aplicação de regulamentações por meio de regras de comando e controle que obrigam produtores e consumidores a adotar práticas específicas; ou (2) políticas baseadas no mercado que incorporam os custos e benefícios das externalidades por meio da imposição de impostos ou subsídios. Infelizmente, os governos precisam lidar com a resistência dos eleitores em ter suas opções restringidas ou em aceitar o aumento do custo de um bem ou serviço, ou com sua falta de disposição para pagar os impostos necessários para financiar um subsídio.
O desenvolvimento de políticas e a administração do Estado são definidos pelos cientistas políticos como governança. A discordância entre a política e o seu resultado é, em parte, a consequência do fracasso da governança na Pan-Amazônia. Apesar do enorme progresso que essas nações fizeram em cinquenta anos de governos democraticamente eleitos, elas não evitaram as armadilhas causadas por forças sociais e econômicas fora de seu controle, incluindo a natureza voraz dos mercados globalizados, os impactos crescentes da mudança climática e a ruptura causada pela pandemia da Covid-19. Tampouco conseguiram gerenciar com sucesso os riscos que, teoricamente, podem ser resolvidos por ações baseadas em integridade e previsão. As autoridades eleitas rotineiramente submetem o interesse público aos interesses particulares, enquanto enriquecem a si mesmas e a seus familiares; mais grave ainda é quando a má conduta fomenta uma cultura de mediocridade, que aliena ainda mais os cidadãos, e faz com que o respeito pelas instituições do Estado diminua.

O descontentamento levou a um aumento do populismo que tem ameaçado a democracia liberal, um fenômeno agravado pela disseminação da desinformação por meio das mídias sociais. Figuras políticas ambiciosas e sem escrúpulos exploraram essa insatisfação com o intuito de exacerbar a polarização que caracteriza muitos aspectos da sociedade amazônica. À medida que a região lida com uma recuperação econômica prolongada (letárgica) da pandemia, o potencial para novos protestos sociais, turbulência política e instabilidade democrática é preocupante.
As nações da Pan-Amazônia promulgaram políticas para conservar a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos do bioma e de seus ecossistemas auxiliares. Essas políticas incluem a consolidação de sistemas de áreas protegidas e o reconhecimento dos direitos territoriais dos povos indígenas, bem como esforços para melhorar o uso da terra e o manejo florestal. Os investimentos em infraestrutura e os projetos de extração mineral são precedidos de análise ambiental e social, enquanto os sistemas regulatórios buscam obrigar os proprietários de terras a cumprir a legislação ambiental. Mais importante ainda, os governos pediram o fim do desmatamento e alguns estão colaborando com o agronegócio para incorporar os princípios da sustentabilidade em suas cadeias de suprimentos. Apesar dessas medidas, a fragmentação e a degradação progressivas dos ecossistemas terrestres e aquáticos da região continuam e tendem a aumentar em termos qualitativos e quantitativos.
A multiplicação das organizações da sociedade civil é, em parte, uma consequência da incapacidade da sociedade de efetuar mudanças por meio do processo eleitoral e de estabelecer um serviço público eficiente. No entanto, a proliferação de organizações não governamentais (ONGs) traz desvantagens significativas, pois elas podem reduzir a pressão sobre os governos para que melhorem e invistam nas instituições estatais.
Por exemplo, na Amazônia, muitas ONGs realizam pesquisas e fornecem suporte de extensão que poderia ser proporcionado com mais eficácia pelas universidades públicas, que também são centros de formação intelectual. Os esforços das ONGs geralmente são fragmentados e ineficientes, principalmente se elas optarem por competir entre si pelos limitados recursos dos doadores. As organizações da sociedade civil são fundamentais para responsabilizar os órgãos governamentais e podem ser úteis quando um órgão decide terceirizar uma tarefa específica. Entretanto, as ONGs não podem substituir os órgãos governamentais, seja em escala ou em legitimidade. A boa governança exige órgãos governamentais competentes.
A estrutura jurídica da governança ambiental
O direito ambiental moderno nasceu nas primeiras décadas do século XX nos Estados Unidos. Começou com a consolidação do sistema de parques nacionais por Theodore Roosevelt, que também iniciou a criação dos órgãos federais que são os administradores dos recursos naturais renováveis do país. Esse desenvolvimento de uma filosofia de gerenciamento integral ocorreu ao longo de várias décadas e foi acompanhado pelo crescimento de organizações da sociedade civil que faziam lobby por legislação e fundos públicos para apoiar a conservação (prática) e o gerenciamento científico dos recursos naturais do país.
Os ideais de conservação se espalharam para outros continentes e, em meados do século, a maioria dos países pan-amazônicos havia criado ao menos um parque nacional.
O Brasil foi um dos primeiros líderes, em 1921, com a criação do serviço florestal nacional no âmbito do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Em seguida, em 1934, o presidente Getúlio Vargas emitiu uma ordem executiva que criou a base legal para a proteção florestal e o manejo da vida silvestre. O decreto descreveu uma série de infrações que foram denominadas “crimes florestais”, puníveis com multas ou prisão. Essa lei não teve um impacto material sobre o uso da terra nas décadas seguintes à sua promulgação, mas estabeleceu um precedente legal de proporções históricas.
O movimento ambiental global foi fundamentalmente transformado na década de 1960, após a publicação de livros influentes que destacavam o perigo da poluição industrial e os limites do desenvolvimento convencional. Isso levou ao surgimento de organizações não governamentais que pressionaram os governos a promulgar leis para combater a poluição e proteger espécies ameaçadas.

A exigência de avaliar os possíveis impactos foi consagrada em lei em 1970 e codificada pelas regulamentações emanadas da recém-criada Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. A indignação pública com desastres ambientais, principalmente derramamentos de óleo e depósitos de resíduos tóxicos, motivou as empresas a mudar suas práticas de negócio para reduzir a exposição ao risco ambiental. As mesmas forças sociais e econômicas estavam mudando as agendas políticas na Europa Ocidental e levaram à criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente em 1972.
Durante as décadas de 1960 e 1970, as nações da Pan-Amazônia foram distraídas por questões domésticas e várias sofreram um longo período de governo militar. No entanto, as elites urbanas e os acadêmicos pressionaram as autoridades a incorporar princípios ambientais nas estruturas de governança. A partir da década de 1980, as organizações internacionais de conservação começaram a apoiar os defensores locais, ao mesmo tempo em que pressionavam as instituições multilaterais a incluir programas ambientais nas estratégias de desenvolvimento. O crescimento econômico continuou a ser a prioridade, mas a conservação da natureza e a redução da pobreza passaram a ser a prioridade dos programas internacionais de assistência ao desenvolvimento. Ao mesmo tempo, as corporações multinacionais fizeram lobby para obter transparência regulatória, a fim de limitar o risco de investimento e facilitar o fluxo de capital privado para os países da Pan-Amazônia.
Essas agendas paralelas atingiram seu apogeu durante a década de 1990, com a ascensão do Consenso de Washington, que impôs políticas de economia de mercado, privatização e democracia. A conservação ambiental foi promovida como parte de uma estratégia mais ampla para promover uma economia global regulamentada. Ironicamente, a economia global é agora entendida como um dos principais motores da degradação ambiental no Sul Global e do desmatamento na Pan-Amazônia.
“Uma tempestade perfeita na Amazônia” é um livro de Timothy Killeen que contém as opiniões e análises do autor. A segunda edição foi publicada pela editora britânica The White Horse em 2021, sob os termos de uma licença Creative Commons (licença CC BY 4.0).
Este texto foi originalmente publicado pelo Mongabay, de acordo com a licença CC BY-SA 4.0. Este artigo não necessariamente representa a opinião do Portal eCycle.