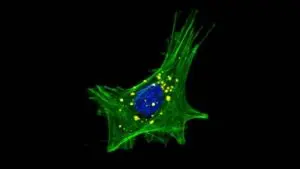Do litoral aos rios de água doce, moradores da Amazônia apontam que pescaria industrial, desmatamento, hidrelétricas e mudanças climáticas têm diminuído o pescado
Por Cícero Pedrosa Neto e Fábio Zuker, da Agência Pública | “Duzentos quilos de peixe era na hora. Hoje em dia você leva 2 mil metros de rede, e você não arranja pra comer. Tem caboclo que não traz 3 quilos para pagar a gasolina”, desabafa o pescador Antônio Bispo do Rosário, morador da comunidade do Tamatateua — uma das 43 comunidades que constituem a Reserva Extrativista (Resex) Marítima Caeté-Taperaçu, no nordeste paraense.
A pesca é uma atividade central na região, uma Amazônia marítima cuja paisagem de manguezais, igarapés e praias de água salgada não é exatamente a imagem que se tem em mente quando se pensa na floresta. “Fala-se na Amazônia como se fosse só uma floresta de terra firme”, diz Célia Regina Nunes das Neves. Ela é pescadora, marisqueira, líder comunitária e uma importante articuladora nacional na defesa das práticas tradicionais das comunidades pesqueiras. Célia é moradora da comunidade Umarizal, situada na Resex Marinha Mãe Grande de Curuçá — junto à Resex Marítima Caeté-Taperaçu, os dois territórios fazem parte das 12 reservas extrativistas marinhas do Pará, divididas entre a região do Salgado paraense e Caetés.
A explicação para a falta de peixe, segundo os moradores, é a pesca industrial, que impediria a tradicional de ser desenvolvida como antes. Os pescadores relatam que os barcos de maior porte praticam a pesca de arrasto, com redes de até 30 quilômetros de comprimento que impedem que os peixes cheguem mais próximos à costa.
“A causa disso são esses arrastões, porque eles pescam só lá no criador do peixe. Só em abril que eles param porque o Ibama cancela o arrastão. Aí começou de novo em maio e vai até não ter mais nada”, conta Antônio. “Aqueles peixinhos miúdos, assim, morrem tudo. Eles levam só os peixes que servem mesmo para as firmas. O que não serve, eles jogam fora. Isso aí era pra ser proibido, proibido!”, diz. Ou seja, peixes menores ou de espécies com baixo valor comercial, que poderiam servir à alimentação das populações locais, ou mesmo filhotes em fase de crescimento, são simplesmente descartados mortos no mar.
“Gurijuba, não vi mais: antes tinha, pegava muito. Agora a gente pega umas gurijubinhas no mínimo”, desabafa Antônio. Uma das técnicas tradicionais utilizadas pelos pescadores são os chamados currais, uma espécie de armadilha, um cercadinho, muitas vezes rodeados por redes, feito com estacas de madeira fixadas no fundo para capturar peixes. Célia explica que nos “currais de beira”, que estão mais próximos às comunidades, os peixes “não estão mais chegando”. “Os peixes que nós consumimos, a corvina, já não se vê mais; a gó [conhecida também pelos nomes de pescadinha, pescada-dentão ou mesmo pescada-gó] tá escassa”, relata.
Pescador há 41 anos, Lourival Alves da Silva, da comunidade Tamatateua, aponta outros aspectos que dificultam o trabalho dos pescadores da região: o custo da gasolina e o fato de os pescadores não serem donos dos barcos que utilizam. Com barcos mais simples e frágeis, quando comparados aos da pesca industrial, os pescadores da comunidade expõem-se a riscos em alto-mar, tendo cada vez mais que se afastar da costa, para conseguir competir pelos peixes. Isso faz que muitos precisem buscar barcos mais robustos para avançar mar adentro em busca do peixe. Uma canoa de médio porte chega a custar entre R$ 12 mil e R$ 14 mil. Se a pessoa não tem condições de possuir uma, é obrigada a trabalhar para um patrão que tenha o barco, que fica com metade de tudo o que for pescado.
“O dono dessa canoa [aponta para a canoa em que está sentado], o que vem do mar é rachado no meio, a metade é dele”, explica Lourival. Os pescadores então incorporam a despesa e dividem entre si a outra metade.
Menos peixes no mar. Endividamentos. Poucas chances de sucesso. Riscos crescentes. Mais gastos. Não são poucos os desafios para as comunidades pesqueiras do Salgado Paraense.
“Maretórios” sob ataque
Para Célia, um dos motivos principais do impacto da pesca de arrasto é a preferência por determinadas espécies que possuem valor de mercado, enquanto outras são jogadas fora. “Eles tiram da rede dele e jogam fora porque pra eles só interessa o camarão ou então a pescada-amarela, por causa do mercado da grude.”
Grude é o nome da bexiga natatória que regula a quantidade de ar no peixe, garantindo-lhe navegabilidade e equilíbrio, capacidade de emergir e submergir. A grude, além de utilizada na indústria como emulsificante, é consumida seca na China e outros países asiáticos como iguaria, o que cria maior demanda pela pescada-amarela e aumenta a pressão na espécie, criando distorções: “A grude vale muito mais que o peixe. Então, às vezes, é mais explorado o peixe pela grude, do que pelo próprio peixe”, explica Victoria Isaac, professora da Universidade Federal do Pará (Ufpa) e especialista em biologia pesqueira.
Essas atividades de pesca agressivas, junto aos efeitos globais das mudanças climáticas, estariam afetando as aves, com consequências inesperadas para os peixes e para a saúde das populações pesqueiras. Segundo Célia, “as aves migratórias já nem estão vindo; ou as que vêm não estão voltando. E a gente está preocupado com isso, porque essas aves migratórias contribuem muito para um equilíbrio dessas espécies”.
Ela conta que as aves se alimentam de um parasita chamado de “piolho do peixe” (argulus) pelas comunidades, que se aloja nas guelras ou na cabeça do peixe, fazendo-o perder peso e até matando-o. Célia explica que, como as aves se alimentam desses parasitas, havia um equilíbrio. Mas, diante da constatação dos pescadores de menor presença das aves no território, aumentou o número de peixes com parasita.
Com tamanhas dificuldades enfrentadas pelas comunidades pesqueiras, muitas têm sido forçadas a se adaptar à agricultura em terrenos desfavoráveis, arenosos ou lamacentos. É o que explica Marly Lúcia da Silva Ferreira, secretária nacional de mulheres da Confederação Nacional de Fortalecimento das Reservas Extrativistas Costeiras e Marinhas (Confrem). “No caso de escassez de produtos de pesca, e que ele não tenha mais viabilidade de se sustentar, de se autossustentar ali, ele vai ter que migrar, buscar outras alternativas”, afirma Marly, moradora da comunidade de Tamatateua, na Resex Marinha Caeté-Taperaçu, na cidade de Bragança, no nordeste do Pará.
A escassez da pesca faz com que comunidades inteiras, antes dependentes do pescado, migrem, por exemplo, para junto do mangue, para se alimentar de caranguejo. “Se não houver um ordenamento para captura, para o manejo desse crustáceo, o que vai acontecer? Vai acabar”, reflete Marly.
É por isso que, para ela e para as comunidades pesqueiras da Amazônia marítima, território e segurança alimentar não podem ser separados. Daí a demanda pela preservação e expansão dos limites das Resex marinhas, como a Mãe Grande de Curuçá e a Caeté-Taperaçu. Em uma reunião com pescadores em 2018, Célia criou o conceito de “maretório”, que deriva da palavra “maré” e aponta a relação entre corpos, comunidades e os movimentos das águas: “Nós somos realmente o ambiente que nós ocupamos, o ambiente das marés, dos manguezais”.
“Maretório” é, para ela, “a autenticidade das nossas vivências, o acontecimento do dia a dia no território, a conjuntura produtiva de uma diversidade de proteínas. É dessa produção que a gente organiza a nossa economia, organiza o nosso consumo sustentável, a moradia”. Nas palavras da líder, trata-se de “convivência, dos nossos diálogos sobre a importância desses espaços, desses ambientes onde nós nascemos, onde nós vamos conservando toda a nossa historicidade de vida, toda a universalidade das nossas vidas, dos saberes, dos fazeres”.
“É no ‘maretório’ que nós vamos buscar o ápice da nossa produção. E toda a nossa produção está naquilo que nós compreendemos como a nossa força legítima de vida, que é a soberania alimentar. Sem alimento a gente não vive, a gente morre, a fome mata”, conclui.
Espécies ameaçadas
Segundo a pesquisadora Victoria Isaac, são as espécies mais valorizadas pelo mercado que se encontram sob maior risco. Entretanto, alerta, a falta de estudos e a diminuição dos investimentos em pesquisas dificultam a dimensão do problema.
“Isso que eu estou dizendo são pesquisas pontuais, baseadas em estudos antigos, de 2007. Estamos em 2022, são 15 anos sem registros”, reflete a pesquisadora.
Victoria elenca as espécies mais afetadas pela pressão das atividades humanas no Salgado Paraense: a lagosta, o pargo, o camarão e a pescada-amarela são, para a pesquisadora, os casos mais evidentes de como a pesca industrial, com barcos maiores, com mais autonomia e mais eficiência, afeta a reprodução dessas espécies. E por motivos distintos: “Cada recurso depende muito da sua estratégia de vida, qual é a sensibilidade, a vulnerabilidade que ela tem à sobre-exploração. Quanto mais lento o crescimento e mais longo o ciclo de vida, mais vulnerável elas são”, explica a bióloga.
Para a lagosta, a pesca industrial veio subindo desde o Nordeste, e, como o animal vive mais de 30 anos, Victoria estima que ela esteja sendo sobre-explorada desde os anos 1960. Quanto ao pargo, que é um pouco menos longevo que a lagosta, a mesma situação. Conforme os estoques declinaram no Nordeste, a pesca predatória avançou para o Atlântico na região Norte.
A pressão sobre a pescada pode ser sentida não apenas na diminuição dos estoques, mas também no tamanho: “Elas são grandonas. Ou melhor, deveriam ser grandonas, pois são peixes que crescem até quase 1 metro. Mas com o tempo o tamanho médio das capturas vem reduzindo, porque o bicho está cada vez mais escasso”, diz Victoria.
“Se você olha em termos de renda, são os peixes que mais dão dinheiro. Então, se ele está diminuindo, de fato o pescador está se sentindo prejudicado por isso.”
Por fim, alinhados ao impacto nessas espécies, estão os efeitos devastadores causados pela pesca de camarões. Embora a espécie tenha um ciclo de vida curto, e não esteja sobre-explorada, a forma pela qual o camarão é pescado, com redes de arrasto, causa enorme dano ambiental. Segundo a pesquisadora, o arrasto do camarão leva consigo uma série de outras espécies.
“Em geral é de um para cinco, ou de um para dez: para cada quilo de camarão que você come, foram jogados mais ou menos 5 quilos de peixe ao mar, porque era peixe que não tem valor econômico, que não tinha lugar no porão do barco”, explica. Trata-se, para a pesquisadora, de uma mortalidade que não serviu para nada, além dos danos causados pelo próprio arrasto, que impactam diretamente a vida de famílias que dependem da pesca artesanal e dos pescados desprezados.
Um outro problema envolvendo a produção de camarão é o impacto dos projetos de criação de camarões em mangues, que desmatam a vegetação. Além disso, a pressão de construções civis e estradas acaba por desmatar o manguezal.
O sedimento que o mangue exporta tem importância ecológica e, levado ao mar, explica Victoria, serve de alimento para as espécies marítimas. E com os manguezais, novamente, é possível observar a diminuição no tamanho dos animais. No caso, os caranguejos, que se tornaram principal fonte de alimento para muitas comunidades em que os peixes estão sobre-explorados: “Isso já é um indicador que estão cada vez explorando uma população mais jovem, e que não dá tempo dos caranguejos, digamos, crescerem o suficiente”, reflete.
Desmatamento e hidrelétricas
Se parte da importância dos manguezais reside no fato de que entre suas raízes se proliferam os caranguejos, a vegetação ciliar dos rios amazônicos cumpre um papel similar para a reprodução dos peixes de água doce. “Igual que o manguezal, a mata ripária [vegetação próxima aos cursos d’água] tem uma função de proteção dos jovens, de berçário”, diz Victoria.
“Quando a chuva cai, a planta segura o sedimento. Se não tem mais mata, chove e lava o solo. E esse solo lavado vai cair pro rio”, explica a bióloga. “Tem vários trabalhos que mostram que a longo prazo, 50, 100 anos, vai mudar toda a dinâmica desse rio devido a essa contribuição errada, digamos assim da falta de mata.” A mudança do uso do solo, a transformação da floresta para pasto ou monocultivo de soja ou milho, por exemplo, afetam diretamente a reprodução do pescado.
As hidrelétricas, por sua vez, representam uma ameaça para os peixes do interior da Amazônia, por interromperem os fluxos migratórios, “empobrecendo geneticamente as populações, isolando a população acima e abaixo, criando subpopulações”. Segundo a pesquisadora, as hidrelétricas têm levado a uma substituição de espécies. Há casos em que há tamanha alteração hidrológica do rio que certas espécies se afastam ou não conseguem conviver nesse ambiente. Ocorre então uma substituição por espécies mais simples, que não migram ou não necessitam entrar nas várzeas ou nos igapós para se reproduzir.
Um dos locais onde hidrelétricas afetam a reprodução de pescados é o rio Xingu, que, barrado por Belo Monte, vive um declínio na reprodução de peixes.
Victoria explica que a dependência dos pescados como fonte de proteína para alimentação é maior no interior que no litoral, devido à dificuldade de acesso a centros urbanos. “Grandes ameaças perpassam certamente pelas hidrelétricas, pelo desmatamento para construção de campos de soja, pelo desmatamento para construção de portos.”
Mudanças climáticas e alimentação
Adalberto Luís Val é biólogo e pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa). Ele é coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia – Centro de Estudos de Adaptações Aquáticas da Amazônia (INCT-Adapta), com enfoque nas mudanças ambientais e climáticas e a sua relação com importantes aspectos sociais, tais como saúde e segurança alimentar. Não poderia ser diferente, já que, segundo estimativas do pesquisador, “90% da população [amazônica] tem o peixe como fonte de proteína nessa região”.
Val explica o modo como ações do homem na Amazônia (desmatamento, poluição e construção de hidrelétricas) interagem com os efeitos globais das mudanças climáticas devido à emissão de gases como o dióxido de carbono (CO2).
Por conta das movimentações atmosféricas mundiais, o dióxido de carbono lançado em determinado local “é socializado no mundo”, impedindo a dissipação de calor e aumentando a temperatura da superfície terrestre”, afirma o cientista.
“A gente tem um segundo efeito que é o efeito local […] a abertura de estrada, ações antrópicas [humanas] de uma maneira geral, construção de barragens, enfim. Uma série de ações que são locais que acabam ampliando os efeitos já constatados dessas mudanças globais.”
Para investigar o que se espera de impacto em termos de mudanças climáticas, Val e a equipe do INCT-Adapta construíram salas climáticas que reproduzem distintos cenários ambientais de 2100. Peixes, tartarugas, plantas, insetos, fungos e outros seres são ali incubados. O objetivo é simular o que acontece, principalmente com a população de peixes, diante destes três cenários de mudança climática: o cenário brando (aumento de temperatura por volta de um 1,5 grau centígrado); o cenário intermediário (aumento de temperatura por volta de 2,8 graus); e o cenário drástico (aumento de temperatura em até 3,4 graus).
Nesses experimentos em laboratório, Val e sua equipe entenderam que, para enfrentarem os desafios impostos pelas mudanças climáticas, os peixes amazônicos fazem uma tentativa de se adaptar: “Uma parte perece. Tem uma alta taxa de mortalidade. Tem mudanças muito profundas no esqueleto, principalmente nos cenários mais drásticos”.
No caso específico dos tambaquis, um dos peixes mais apreciados e consumidos na Amazônia, “até 40% dos animais apresentam alguma deformação esquelética quando expostos aos cenários mais drásticos”, de aumento de 3,4 graus, afirma Val. Em paper publicado na revista Ecology and Evolution, o estudo aponta que as principais deformações esqueléticas foram escoliose, cifose e mudanças na mandíbula, entre outras. O que significa que “esses animais no ambiente natural não conseguem enfrentar os seus predadores; portanto, essa parcela da população vai desaparecer”.
Na floresta, fora do ambiente controlado de cenários de mudança climática, os efeitos de mudanças climáticas observados por Val e sua equipe são também alarmantes: aumento da temperatura, diminuição do pH da água e diminuição do percentual de oxigênio impõem desafios consideráveis para as espécies. Entre as mais suscetíveis estão aquelas da ordem Characiformes, na qual se encontram as principais espécies utilizadas na alimentação amazônica, como o tambaqui: “Essas espécies já estão vivendo muito próximas dos seus limites máximos de temperatura”, afirma Val.
O pesquisador cita como exemplo algumas espécies da ordem Characiformes do rio Negro, que corta a parte noroeste do estado do Amazonas. Alguns desses peixes têm como temperatura crítica máxima 31 e 32oC. “Se você pegar a média das máximas do rio Negro, a média é 33oC. Ou seja, se a gente tiver um pequeno aumento de temperatura do sistema como um todo hoje, essas espécies estarão enfrentando um problema extremamente sério com adaptação ao aumento da temperatura.”
Em paralelo ao aumento da temperatura, está a diminuição dos pHs da água — ou seja, algumas águas ácidas da Amazônia, como o rio Negro, tendem a ficar ainda mais ácidas, já que o aumento do CO2 na atmosfera se dilui na água, formando ácido carbônico. “Você vai trazer um desafio monumental pras espécies que vivem nessas regiões.”
Por fim, Val diz que as mudanças climáticas tendem a acarretar águas com menos oxigênio: “Toda vez que você dissolver um gás novo na água, você desloca os outros. E o que mais é propício para se deslocar rapidamente é o oxigênio”.
O cientista salienta ainda que nenhuma dessas alterações ocorre isoladamente, havendo certa interação entre essas mudanças nas características dos rios, com os efeitos das ações humanas locais, como construção de hidrelétricas e desmatamento, descritas anteriormente por Victoria Isaac.
“É um desafio muito grande você mexer com essa fonte de proteína. Porque isso ameaça a segurança alimentar dessas pessoas, que vivem aqui. Do lado brasileiro […] são quase 25 milhões de pessoas”, afirma Val.
Este texto foi originalmente publicado pela Agência Pública de acordo com a licença Creative Commons CC-BY-NC-ND. Leia o original. Este artigo não necessariamente representa a opinião do Portal eCycle.