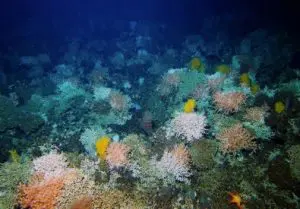Desmatamento, hidrelétricas, poluição e mudanças climáticas põem em risco megadiversidade de rios, lagos e poças
Em dezembro de 2020, enquanto dirigia pela rodovia CE-040, que corta o município de Aquiraz, no litoral cearense, o biólogo Telton Ramos, da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), notou que uma poça temporária de cerca de 400 metros quadrados (m²) na várzea do rio Pacoti era aterrada por obras em andamento. Preocupado, ele parou o carro e fez fotografias e vídeos do que deve ter destruído parte do único hábitat conhecido de uma espécie de peixe, Hypsolebias longignatus, que atinge no máximo 4 centímetros (cm) de comprimento e cujo macho ostenta listras e manchas azuis nas barbatanas. Conhecidos como peixes-anuais ou peixes-das-nuvens, porque parecem chegar com as chuvas, os indivíduos dessa família, dos rivulídeos, têm um ciclo de vida curioso. Os peixes vivem por no máximo 9 meses em pequenas lagoas ou poças temporárias e morrem durante a seca, mas deixam ovos enterrados que, quando a chuva cai, eclodem e povoam o lugar novamente. “Aterrando uma poça, pode-se destruir uma população inteira e levar a espécie à extinção”, alerta Ramos.
Com o material que juntou, ele publicou uma denúncia no perfil Peixes da Caatinga, que mantém no Instagram com outros pesquisadores. O caso repercutiu em jornais locais e as obras de duplicação da rodovia e a construção de um prédio comercial foram embargadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). O órgão exigiu que as empresas envolvidas façam estudos de impacto ambiental. “Estamos acompanhando de perto”, comenta o biólogo, que integra o Plano de Ação Nacional para a Conservação (PAN) dos Peixes Rivulídeos. No começo de junho uma equipe contratada pelos responsáveis pela obra encontrou a espécie em pontos não aterrados da poça, que lembra um brejo. Para alívio dos pesquisadores, ela não foi extinta, mas é preciso aguardar o término dos estudos para mensurar o impacto causado.
Por viverem em ambientes intermitentes, os rivulídeos são a família de peixes mais ameaçada do Brasil. Das 350 espécies descritas nos seis biomas terrestres brasileiros, 125 estão em uma das categorias de ameaça do Livro vermelho da fauna brasileira ameaçada de extinção, publicado em 2018 pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). De acordo com a publicação, 76% (312) de todas as 409 espécies de peixes ameaçadas no país são classificadas como continentais: vivem na água doce. Hoje esse número pode ser ainda maior, já que os dados usados na publicação são de avaliações de risco feitas entre 2011 e 2014.
Em água doce vivem “Os peixes esquecidos do mundo”, segundo título-alerta do relatório da organização de conservação global WWF publicado em fevereiro de 2020. Elaborado pela entidade e por outras 15 instituições não governamentais, o documento chama a atenção para o fato de que a maioria (51%) das espécies de peixes descritas no mundo (18.075 de 35.768) habita os rios, lagos e demais ambientes de água doce. Mesmo assim, segundo o documento, desde 1970 as populações de peixes migradores foram reduzidas em 76% e as de grandes peixes – aqueles que pesam mais de 30 quilogramas (kg) – em 94%.
Das 10.336 espécies de peixes continentais do mundo avaliadas, 30% correm risco de extinção conforme a lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), destaca o relatório. O documento deixa o alerta: apesar dos esforços mundiais para combater a perda de biodiversidade aquática, os peixes de água doce parecem ficar à margem dos programas de conservação de forma global e são ameaçados por poluição, pesca predatória ou empreendimentos para geração de energia elétrica.
“Temos uma grande diversidade de peixes nesse quase 1% que compõe a água doce disponível na superfície do planeta. E é justamente essa água que usamos para tudo, principalmente aqui no Brasil”, ressalta a bióloga Carla Polaz, do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Aquática Continental (Cepta) do ICMBio em Pirassununga, interior paulista. Irrigação, indústria e abastecimento urbano são os principais usos no país que tem a maior reserva de água doce do mundo – cerca de 12% do total. A falta de saneamento básico é outro problema, lembra ela, já que o esgoto não tratado é jogado diretamente nos rios na maior parte do país.
No Brasil, os peixes pequenos, como os rivulídeos, são os mais afetados. “Hoje, 81% das espécies ameaçadas de peixes de água doce têm até 15 centímetros de comprimento”, alerta Polaz, que publicou um artigo de revisão sobre os peixes de pequeno porte no primeiro trimestre de 2020 na revista científica Biota Neotropica. “Eles são pouco conhecidos e, por isso, esquecidos”, comenta. “Boa parte deles não é usada para alimentação, tirando alguns lambaris vendidos fritos em praias.” O estudo propõe alguns pontos que explicariam o problema: os ambientes aquáticos menores, onde vive a maior parte desses peixes, são mais vulneráveis do que os rios e lagos grandes, habitados pela maioria dos peixes de médio e grande porte. Nesses últimos estão os representantes de alto valor comercial, como o dourado e o pirarucu.
Outras ameaças
De acordo com os dados do Livro vermelho do ICMBio, 70% das espécies de peixes descritas no Brasil são de água doce: 3.148, diante de 1.358 do mar. “Proporcionalmente eles são os mais ameaçados, principalmente porque seus ambientes correm mais riscos”, afirma Polaz. O principal impacto é causado pela agropecuária, com a destruição de matas ciliares, seguido pelas grandes hidrelétricas e Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH). As barragens usadas nas represas mudam o fluxo dos rios e transformam corredeiras em lagos, muitas vezes alterando os recursos alimentares desses animais. “Se um tipo de macaco vive em árvores e elas são cortadas, o impacto é visível. No rio, se uma hidrelétrica é instalada, a água continua lá e dá a falsa sensação de que está tudo bem; mas muda tudo para o ecossistema dos peixes”, compara ela.
Uma espécie que escasseia em consequência das barragens e da destruição das matas ciliares é Brycon insignis, conhecida como piabanha, de cor cinza, que chega a 34 centímetros de comprimento. Hoje classificada como ameaçada de extinção e com os estoques pesqueiros esgotados, nos anos 1950 era muito pescada – foram cerca de 20 toneladas em 1951, segundo artigo citado no Livro vermelho. Hidrelétricas instaladas na bacia do rio Paraíba do Sul, que se estende pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, são apontadas como uma das causas.
Na parte paulista do rio já não há mais registros de piabanha selvagem. “Muitas vezes as barragens separam os locais de alimentação das áreas de reprodução da piabanha, que precisa migrar para se reproduzir”, comenta Polaz, que coordena o PAN para Conservação das Espécies Aquáticas Ameaçadas de Extinção da bacia do rio Paraíba do Sul do ICMBio. Ela destaca ainda outro efeito: como a água fica mais lenta nos reservatórios, os ovos da piabanha afundam – o que faz com que não vinguem. “Os ovos dessa espécie eclodem no fluxo do rio, precisam de movimento”, explica. A poluição do rio e a introdução do dourado (Salminus brasiliensis), peixe carnívoro e predador da piabanha, também agravaram o problema. O dourado é considerado uma espécie exótica para aquela bacia.
“Espécies exóticas são mundialmente consideradas responsáveis pela perda de biodiversidade nativa”, comenta Telton Ramos, da UEPB. É o que pode acontecer com os peixes nativos da bacia do rio Paraíba do Norte depois da transposição do rio São Francisco, concluída em 2017. Ramos e outros colegas das universidades federais da Paraíba (UFPB) e do Rio Grande do Norte (UFRN) compararam coletas de peixes feitas no açude de Poções, no município paraibano de Monteiro, antes e depois da transposição – em julho de 2018 e janeiro de 2020. Após o açude receber as águas do São Francisco, eles fizeram os primeiros registros da espécie invasora Moenkhausia costae, conhecida como tetra-fortuna ou piaba. Os resultados foram publicados em maio de 2021 na revista Biota Neotropica.
Nas coletas mais recentes, de janeiro de 2020, eles notaram que a população de tetra-fortuna, peixe cinza muito usado em aquários que chega a 6 centímetros de comprimento, está crescendo e já é a terceira mais registrada no açude de águas transparentes. “Ela não é predadora, mas compete com as espécies nativas por alimentos, por locais de reprodução e pode inclusive comer ovos de outras espécies. Peixes invasores costumam ser mais resistentes, não têm predadores naturais e podem trazer doenças”, explica Ramos. Se os peixes invasores estão entrando de alguma maneira, ele alerta que o próximo passo será uma invasão de outros açudes quando o de Poções transbordar, o que pode criar uma reação em cadeia em toda a bacia do rio. “O perigo será maior se entrar um bagre do rio São Francisco, que é predador de topo de cadeia”, afirma Ramos.
A bacia amazônica, que concentra o maior número de espécies de peixes de água doce do mundo, também sofre com a ameaça silenciosa de peixes invasores. O trabalho de pesquisadores do Brasil, em parceria com colegas do Peru, da Bolívia, do Equador, da Venezuela e da Colômbia, mapeou 1.314 registros de 41 espécies não nativas de peixes, a maioria introduzida pela aquicultura ou pelo aquarismo. Segundo o levantamento, publicado em 16 de junho na revista Frontiers in Ecology and Evolution, houve um aumento considerável dos registros dos não nativos nos últimos 20 anos – 75% deles são desse período.
As espécies exóticas que mais apareceram nos registros foram o pirarucu (Arapaima gigas), nativo da bacia sedimentar, a área baixa da Amazônia, nas águas mais calmas das várzeas, mas potencial invasor nos locais mais altos da bacia. Em seguida vinham o barrigudinho (Poecilia reticulata) e a tilápia (Oreochromis niloticus). No caso do pirarucu, exemplares invasores apareceram nos reservatórios das hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio, no rio Madeira, na região de Porto Velho, em Rondônia. Por conta disso, em 2019 a pesca do peixe nessa região foi liberada inclusive no período em que ela é considerada em defeso na bacia sedimentar, quando a captura é restrita para proteger sua fase reprodutiva nas várzeas. Isso ocorreu depois que pesquisadores das universidades federais de São Paulo (Unifesp), do Amazonas (Ufam), do Paraná (UFPR) e de Rondônia (Unir) elaboraram uma nota técnica alertando sobre a invasão do pirarucu nessa região. O documento foi envidado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam) de Rondônia. “Ele serviu de base para a elaboração da Instrução Normativa [nº 02 de 10 de maio de 2019] da Sedam que autorizou a pesca nesse período”, conta a bióloga Gislene Torrente-Vilara, do Instituto do Mar da Unifesp, campus Baixada Santista, que participou da elaboração da nota técnica e é uma das autoras do artigo da Frontiers in Ecology and Evolution.
Mudanças climáticas
As mudanças climáticas são outro desafio para os peixes. Na Amazônia, eles já enfrentam períodos mais longos de anomalia nos padrões de chuva – nos últimos 10 anos foram registradas três grandes cheias (2009, 2012 e 2015) e três grandes secas (2005, 2010 e 2016) classificadas como eventos extremos, que ocorreriam a cada 100 anos. Elas impactam os ciclos de vida, de alimentação e de reprodução dos animais.
“Como a variação de temperatura nos trópicos é menor, os peixes que vivem ali têm pouca tolerância térmica e podem ser mais afetados pelos efeitos do aquecimento global”, explica a bióloga Vera Val, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), que publicou com colegas um artigo de revisão em que analisou a vulnerabilidade climática dos peixes de água doce da América do Sul. O estudo, publicado em março na revista científica Journal of Experimental Zoology, reforça a ideia de que os peixes neotropicais de latitudes próximas à linha do equador, como os que vivem nas bacias do Amazonas e do Orinoco, serão ainda mais afetados.
Em pesquisas anteriores a bióloga havia indicado que algumas espécies amazônicas economicamente importantes, como o tambaqui (Colossoma macropomum), que pode medir 1 metro, seriam capazes de sobreviver em um cenário mais quente, mas isso causaria desequilíbrios fisiológicos, afetando, por exemplo, seu crescimento e ciclo de vida, seus hábitos reprodutivos e a fuga de ambientes nativos. “A temperatura média nos rios da Amazônia é de 28 graus Celsius (°C) a 30 °C, mas em um cenário projetado para 2100 as águas poderiam chegar a 36 °C, o que representaria um forte estresse fisiológico mesmo para o tambaqui”, afirma Vera Val.
As alterações ocasionadas pelas mudanças climáticas devem impactar também as áreas de proteção da bacia amazônica, fazendo com que algumas delas não sejam mais tão efetivas. Por terem demarcações fixas, essas áreas podem deixar de acompanhar, no futuro, as dinâmicas dos ciclos de inundação, mutáveis em um cenário com mais eventos extremos, alerta um artigo publicado em maio na revista Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems.
A partir de uma base com quase 1.300 espécies, a análise mostrou que as alterações climáticas poderiam implicar perda de 2% da fauna de peixes e 34% dela poderá vir a ser severamente afetada. Ainda, 25% das espécies que se prevê ameaçadas no futuro estão concentradas em regiões onde faltam conexões entre as áreas de proteção. “As unidades de conservação são linhas cegas nas florestas, que não levam em conta as bacias hidrográficas como um todo”, explica Gislene Torrente-Vilara, uma das autoras da pesquisa.
O trabalho lançou mão do banco de dados criado pelo projeto AmazonFish, que mapeou a distribuição geográfica de 2.406 espécies de peixes de água doce, com apoio da FAPESP. O banco, que tem 232.936 registros georreferenciados, foi construído com base em 590 fontes diferentes, incluindo publicações, base de dados de museus e universidades e expedições de campo, das quais Torrente-Vilara participou.
O caso do pirarucu
Um caminho para garantir a subsistência das espécies de água doce parece ser a proteção territorial protagonizada pelas comunidades locais. O manejo do pirarucu, que quase foi extinto no final do século XX em consequência da pesca predatória, é um exemplo valioso desenvolvido pelo Instituto Mamirauá há cerca de duas décadas. “Apesar da tendência mundial de declínio da megafauna de água doce, podemos dizer que a Amazônia tem seguido um padrão reverso, no qual a recuperação de algumas espécies tem sido possível graças a esse trabalho de proteção dos lagos por comunidades locais”, avalia o biólogo João Campos-Silva, em estágio de pós-doutorado na Universidade Norueguesa de Ciências da Vida e diretor-geral do Instituto Juruá, com sede em Manaus.
Os manejadores constroem casas de madeira na entrada dos lagos e passam a proteger a área 24 horas por dia, em um trabalho de revezamento semanal entre as famílias das comunidades locais, que fiscalizam todos os pontos de acesso para impedir a ação de pescadores ilegais. Na região do médio Juruá, um lago protegido tem em média 500 pirarucus, comparados a apenas nove indivíduos em lagos sem proteção. O trabalho de manejo comunitário provocou o crescimento de 425% das populações de pirarucu nas águas barrentas do rio Juruá em um período de 11 anos, conforme artigo publicado na revista Freshwater Biology em abril de 2019, do qual Campos-Silva é o principal autor. A pesca do pirarucu é proibida onde ele é nativo, mesmo fora dos locais de manejo. “O pirarucu é um grande símbolo para o desenvolvimento local na Amazônia”, afirma Campos-Silva. “Cerca de 4 mil pessoas protegem mais de 3 mil ambientes aquáticos, gerando resultados impressionantes para a conservação da biodiversidade e o bem-estar local, incluindo geração de renda, segurança alimentar, melhorias na infraestrutura das comunidades e organização social.”